O angolano que começou a escravatura nos Estados Unidos
Para muitos norte-americanos, em especial os do Sul, a palavra Angola é
sinónimo de uma das prisões com a pior das famas, conhecida pela «Alcatraz do
Sul», construída em 1901. Considerada uma das prisões de máxima segurança dos
Estados Unidos, a Penitenciária Estadual da Luisiana foi construída nos
terrenos de uma antiga plantação para onde vinham trabalhar escravos oriundos
dessa região africana.
Mas a mesma palavra Angola serviu para batizar uma outra plantação, no
norte do país, no estado do Maryland, em memória daquele que terá sido o
primeiro escravo angolano a pisar terras da América do Norte, no século XVII.
Pode-se dizer que António, ou Anthony Johnson, entrou nas páginas da
história dos Estados Unidos graças à sua tenaz personalidade, extraordinária
capacidade de trabalho e uma vontade inequívoca em trilhar e vencer todas as
curvas e as valas da vida. Mas o acaso acabaria por dar o empurrão definitivo
nesse sentido.
Jamestown
António, dito O Negro
Em 1619, um jovem foi capturado por traficantes de escravos na região atual
de Angola e vendido a um comerciante ao serviço da Virginia Company, na
primeira colónia inglesa na América. António, O Negro, como era conhecido,
depois de chegar a Jamestown, a bordo de um barco holandês, foi vendido a
Edward Bennett, um plantador de tabaco inglês, para trabalhar na sua
propriedade, Warresquioake.
Segundo registos da época, em especial da House of Burgess, este terá sido
o primeiro grupo de africanos a chegar à Virgínia, como registou o colono John
Rolfe: «Por volta de Agosto último (1619) chegou um holandês que nos vendeu
vinte negros». Para além de António – o único que traz a referência a Angola –
chegaram no mesmo grupo uma mulher chamada Ângela e um homem, John Pedro, de
trinta anos, o que indica que também poderão ter a mesma origem.
O facto de António e os restantes africanos terem nomes cristãos poderá ser
um indicador de terem sido comprados na cidade de São Paulo de Luanda, onde
terão permanecido algum tempo. Os escravos vendidos na cidade para as Américas
embarcavam na baía e muitos eram capturados com a ajuda de naturais de Angola,
mestiços e mulatos, como retratou o escritor Pepetela no seu último livro A
Sul. O Sombreiro.
Este era ainda o tempo dos primeiros colonos de uma América virgem e
inocente, onde os seus poucos habitantes – europeus, índios, judeus, negros –
viviam pacificamente integrados na comunidade de Jamestown, fundada em 1607, na
então Colónia da Virgínia, regida por regras e leis muito próximas da tão
desejada Terra Prometida. Para se ter uma ideia, o censo de 1622-25 regista
vinte e três africanos a viver em Jamestown, descritos como criados e não como
escravos.
Antes de 1654, os africanos dos territórios da Virgínia e Maryland tinham
um estatuto mais próximo de trabalhadores contratados do que de escravos;
estavam ligados por um contrato com um período máximo de 12 anos, no final do
qual recebiam terras e utensílios agrícolas para se estabelecerem por sua conta
– onde e como quisessem.
A preocupação principal da coroa inglesa era conseguir gente disponível
para desbravar e povoar as vastas terras recentemente ocupadas e estabelecer o
máximo de colónias ao longo da costa leste do território americano.
António revelou-se um excelente trabalhador na plantação de Edward Bennett
e este não demorou muito a afeiçoar-se ao jovem recém-chegado. Como prova da
sua estima, Edward permitiu-lhe trabalhar um pequeno terreno junto das suas
terras, onde António começou também a cultivar tabaco, milho e a criar algumas
cabeças de gado, embora continuasse vinculado ao inglês pelo contrato de
trabalho.
Em março de 1622, a plantação de Bennett foi atacada por índios e 52
pessoas foram massacradas. Apenas António e mais quatro pessoas sobreviveram ao
ataque.
Nesse mesmo ano, uma nova leva de africanos chegou à Virgínia no navio
Margaret e António apaixonou-se por Mary, a única escrava dessa leva trazida
para trabalhar na plantação. António e Mary casaram-se e tiveram quatro filhos,
dois rapazes e duas raparigas, numa união próspera que duraria quarenta anos.
Documentos da época dizem que António não terá chegado a cumprir o contrato
até ao fim, tendo ganho a sua liberdade muito antes dos 12 anos estipulados e
comprado a liberdade da sua mulher. A primeira coisa que fez foi mudar o nome
para Anthony Johnson, adotando um novo apelido, sinal de que não era mais
propriedade de ninguém.
Depois de ganhar a sua liberdade, a família mudou-se para o interior da
Virgínia, para uma pequena quinta onde começou a criar gado.
De acordo com registos da época, Anthony e Mary eram respeitados na sua
comunidade e reconhecidos pelo seu «trabalho árduo e pelos serviços prestados»,
como ficou registado na declaração de um tribunal, a propósito de uma disputa
de terras. Ao longo dos anos, a ambição de Anthony não parou e o angolano
rapidamente se tornou um grande proprietário, ao adquirir 125 hectares de
terras para si e para os seus filhos.
A história da vida de António teria sido igual à de milhões de outros
negros levados para as Américas não fosse uma teimosia sua levada até ao
limite.
Anthony compra Casor
Cada vez mais próspero, Anthony decidiu contratar cinco trabalhadores e um
escravo africano, de nome John Casor, para trabalhar nas suas terras. Expirado
o prazo contratual, Anthony recusou libertar Casor, alegando que o tinha
comprado e não contratado. Este decidiu então pedir ajuda a um agricultor
branco local, chamado Robert Parker, reivindicando os seus direitos.
Revoltado, Parker decidiu dar apoio e proteção a Casor. O processo contra
Casor parecia não vir a ter um desfecho favorável e Anthony decidiu mudar de
estratégia: deu entrada no tribunal com um processo contra Parker, alegando que
este mantinha ilegalmente em seu poder e ao seu serviço um trabalhador que
ainda estava vinculado a ele, Anthony. Casor, por sua vez, tentava provar em
tribunal que era apenas um trabalhador contratado e não um escravo. Os juízes
coloniais ficaram sem saber como resolver o caso. Pela primeira vez os
tribunais da Colónia da Virgínia viam-se confrontados com uma situação em que
uma pessoa reivindicava para si outra pessoa como propriedade sua.
O tribunal decidiu a favor de Parker, libertando Casor, mas apenas
temporariamente, pois de imediato reviu a sua decisão e declarou que Casor
deveria retornar ao seu antigo dono, Anthony Johnson. E sendo Casor propriedade
de Anthony Johnson estava ao seu serviço para o resto da vida, como veio, de
facto, a acontecer.
Um precedente histórico
Para os historiadores norte-americanos, com esta decisão do tribunal,
Anthony Johnson ou António, o angolano, tornava-se o primeiro proprietário de
escravos da América. O tribunal abria assim um histórico precedente: Casor
tornava-se no primeiro indivíduo reconhecido pelas autoridades na América como
escravo, na Colónia da Virgínia, o que traria consequências terríveis para os
africanos nos três séculos seguintes.
Em 1653, um incêndio de enormes proporções destruiu a maior parte da
plantação da família de Johnson, obrigando-o a pedir ao tribunal uma isenção no
pagamento de impostos, pois mal tinham para viver. Dois anos mais tarde, talvez
fugindo aos vizinhos brancos hostis que lhe cobiçavam as terras, Anthony e
Mary, juntamente com os filhos John e Richard, mudaram-se para Somerset County,
em Maryland, a norte.
Aqui, na região ainda pouco povoada de Wicomico Creek, Anthony e a família
chegaram com 14 cabeças de gado e oito ovelhas. Arrendaram uma fazenda com 120
hectares (Tonies Vineyard), para cultivar tabaco, onde Anthony viveria até à
sua morte, em 1670. A viúva Mary viveria ainda por mais dois anos.
Mas apesar de ser um homem inteligente, trabalhador e dinâmico, aos olhos
dos outros Anthony nunca deixou de ser o que era: um homem negro. Logo após a
sua morte, a maior parte das suas terras foram anexadas por um agricultor
branco, aproveitando uma decisão de um tribunal local que dizia que «por ser
negro, Anthony Johnson não era considerado um cidadão da Colónia da Virgínia»,
e assim as suas terras passavam para as mãos da coroa inglesa.
Em 1677, John Johnson Jr., neto de Anthony e Mary, herdou os últimos 22
hectares do que restava das terras de Anthony e batizou a fazenda de «Angola»,
em memória à terra ancestral do avô, António. John Jr. não teve filhos e depois
de 1730 os registos da família de Anthony Johnson desaparecem por completo dos
arquivos.
Contrariando a ideia do proprietário de escravos negros ser exclusivamente
branco, o precedente aberto por Johnson – um negro proprietário de escravo
negro –, haveria de fazer alguma «escola» em alguns estados escravocratas do
sul dos Estados Unidos. A maior parte dos negros que escravizaram os seus
irmãos eram, na verdade, mulatos filhos dos proprietários brancos nas grandes
plantações.
Segundo um censo de 1830, a maioria dos negros livres proprietários de
escravos vivia no Estado do Luisiana e eram plantadores de cana-de-açúcar. Ao
todo, estes antigos escravos chegavam a possuir mais de 10 mil escravos nos
estados da Luisiana, Maryland, Carolina do Sul e Virgínia.
publicado originalmente na revista Africa 21, Março 2013
por Joaquim Arena
Retirado da Revista Buala







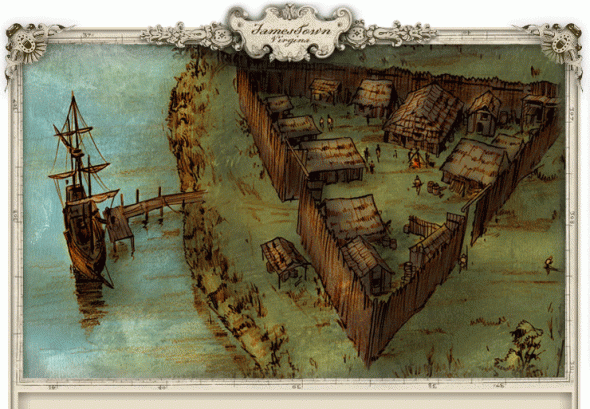

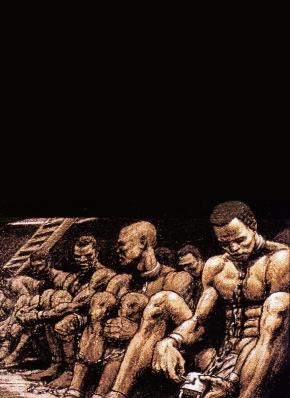










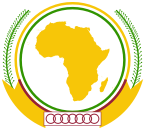











.JPG)






























































.jpg)




















.jpg)


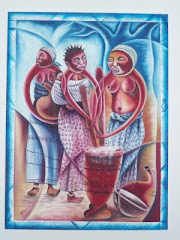




















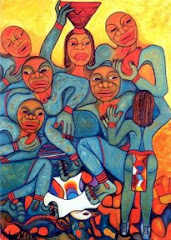
_Fev_2008.jpg)



































