O inferno e a morte
na palma da mão
ou a mirabolante
estória de Pedro Francisco,
sobrevivente de
todas as batalhas na cidade do Huambo,
contada por ele
próprio em tempos de paz
Caçar ratos e
lagartixas com a tchifuta, quem acredita?
Eu procurava
crateras. Bomba que cai não acerta no buraco onde já explodiu outra bomba. Isso
a gente aprende, se sobreviveu e fica de atenção com a vida.
Morrer – quem quer
morrer, ou ser só baicado à toa?!
Então, eu corria
logo-logo para lá, onde tinha acabado de explodir um obus. Às veces, um míssil
atrás do outro – horas e mortes seguidas.
Choviam tempestades
diluvianas de bombas. Tanques de guerra chagavam e entravam pelos escombros da
cidade adentro, disparando sempre, uma gincana de posse e de espaço. Rajadas de
metralhadora, tiros de canhão, morteiros, bazucas. O inferno e a morte na palma
da mão.
O céu desaparecia
do azul da manhã, eclipsava-se. E era a terra, em repuxo, a sair e a ser
cuspida da Terra, pelas entranhas. Com suas pedras, suas árvores desde a raiz.
Pedaços de ferro das carcaças das bombas e dos tanques fulminados. Tudo pelos
ares, como se fosse a lava de um imenso vulcão. De centenas, de milhares de
vulcões entrando em actividade ao mesmo tempo – tempo irrespirável, e sem
medida.
Sangue de gente ou
de animal. Telhados de casas, paredes, restos de portas e janelas. Pedaços de
corpos, vísceras, braços e pernas desmembrados – tudo isso caía, depois, na
cabeça da gente. Tudo isso caía em cima dos mortos – e nenhum morto era um
morto completo, reconhecível. Só pedaços desencontrados da sua própria alma.
Estar na guerra e
fugir da guerra é estar e ser sozinho. Ninguém pode carregar família atrás.
Ninguém pode juntar e fugir com a família.
Para onde? A que
horas?
A familia, na
guerra, acabou. Família, na guerra, é só a tua sorte. A sorte de cada um,
sozinho, fugindo para lado nenhum. Ou deixando-se ficar em lugar que não
existe.
Eu escavava a
medida do meu corpo deitado. A terra era quente, estrondada pela morte. Os
bolsos rotos da roupa esfarrapada cheios de pedras para a tchifuta. Uma vara
para escavar a terra, fazer colchão no fundo das crateras como se fosse já a
minha sepultura.
Eu queria ser
enterrado, se morresse. Se me matassem. Isso, eu queria. Custava aceitar ser
comido pela onça, ser comido pelo leão, pela hiena ou pleos mabecos, que agora
vinham de noite à cidade comer os nossos mortos. Os nossos mortos, que as
bombas e a guerra não deicavam sepultar.
As pessoas olhavam
alucinadas para a carne desses mortos, e pergutavam:
-Você já comeu
alguma vez carne humana?
E salivavam. Juro
que sim. Cresica-nos água na boca.
Eu vi os cães
comerem os seus antigos donos – homens, mulheres e crianças, com quem antes
brincaram e lhes deram de comer, alimentavam-nos agora com a carne do seu
próprio corpo. Eu vi.
Alguém acredita?
Nesta guerra, só os
cães engordaram. E a gente, quando já não pode mais e aparece um cão assim
desprevenido, a gente mata. E come.
Devora-o!
Eu já assisti á
morte de pessoas, sem nada poder fazer para as salvar, porque não tiveram
forças sequer para acender a fogueira e esperar o tempo de cozer ou assar um
pedaço de cão. E já vi gente comer carne de cão completamente crua, ratos,
lagartixas, sem mais nada. Eu próprio já o fiz.
Sal para temperar
um pouco a carne? Isso é um luxo que a gente não pode nem sonhar. Nem sal, nem
muitas vezes água para beber, ou cozer um pouco de capim.
-A gente, agora –
eu falei uma vez para a minha falecida mulher -, come a carne dos nossos
parentes e dos nossos amigos e familiares na carne dos cães que se tornaram o
nosso único alimento.
Nem pássaros passam
mais nestes céus, depois das bombas. Nem pássaros. Essa guerra também lhes
roubou as árvores de poisar e fazer os ninhos. E não há nada para eles comerem,
aqui – nenhuma semente sobre a terra calvinada, nenhum fruto. Só abutre e
milhafre, de quando em vez, sobre os cadáveres. Só essas aves, que nem pássaros
são.
Gatos? É carne que
a gente já não prova faz tempo. Muitos anos, para falar a mais pura verdade.
E até os ratos,
aquelas ratazanas luzidias e contentes, saindo dos escombros e das crateras,
que a gente fuzilava de tchifuta e nos davam um pouco de proteínas, tambiém
esses se exilaram das nossa barrigas inchadas, desnutridas.
Carne de cobra,
sapo ou lagartixa? Muito pouca, também. Quase nada. Como os grilos e os
gafanhotos – eles próprios: deslocados de guerra.
Um dia, deitado no
meu colchão-sepultura, no fundo da cratera ainda fumegante das últimas bombas,
vi uma jibóia em trânsito. Passou a dois ou três metros de mim, e eu, sem faca
nem catana: só um pau, uma vara para escavar a terra.
E a tchifuta,
sempre engatilhada para disparar.
Acreditei que tinha
chegado a minha hora mais fodida.
Esqueci as bombas,
as rajadas de metralhadora, os disparos dos canhões e dos tanques, tudo a
disparar e a cair ao mesmo tempo, e me levantei de um pulo, apontando a
tchifuta à cabeça da jibóia.
Reparei que ela
estava com tanta fome quanto eu, boa para ser morta e devorada com a pele e
tudo.
Ou ela, ou eu –
pensei.
Mas, porra, ser
comido vivo por uma jibóia, ao fim de quase vinte anos a conseguir sobreviver
na guerra, com toda a família morta ou deslocada, família perdida sei lá por
onde?!
-Não dá, caralho! –
gritei a plenos pulmões contra todas as bombas e todo o pavor da morte. –
Vou-te matar, filha da puta! Eu não vou morrer engolido por uma jibóia,
caralho? Não vou!!!
E atirei a pedra
que tinha na tchifuta em direcção da cabeça dela, com o resto de todas as
forças que ainda me restavam.
Até hoje, eu estou
para saber se foi a pedra que lhe acertou, e a fez fugir, ou se foram os meus
gritos e movimentos alucinados que a assustaram. O que eu sei é que ela se
escapuliu de mim, e bazou, para se ir empanturrar de algum morto ali perto,
onde foi encontrada a jibóiar, feliz da vida.
Alguém a matou à
paulada na cabeça. Depois, foi estendida de costas no chão, aberta da cabeça à
ponta da cauda para se lhe retirar da barriga o cadáver que ela jibíava, e
finalmente devorada, com a pele devidamente estaladiça e tudo, num dos
churrascos mais festivos desses tempos malditos.
Zetho Cunha Gonçalves


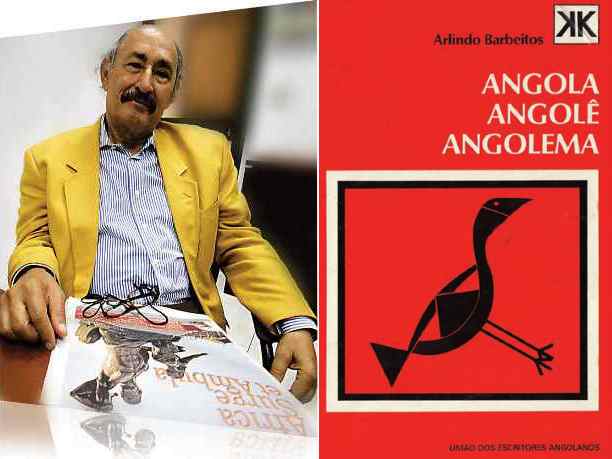

.jpg)

